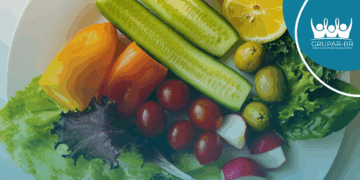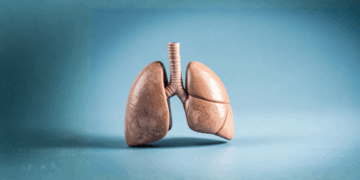A prática de encontrar novos usos para remédios antigos (chamada de reaproveitamento ou reposicionamento de medicamentos) não é nova.
O exemplo mais famoso (ou infame) é o sildenafil, também conhecido como Viagra. Originalmente desenvolvida para tratar a hipertensão, a pílula azul revelou uma inesperada eficácia no tratamento da disfunção erétil e teve essa nova aplicação aprovada em 1998 pela FDA, a agência reguladora de medicamentos e alimentos nos EUA, tornando-se rapidamente uma droga de sucesso.
Outro exemplo conhecido é a talidomida. Dado às mulheres no final da década de 1950 para prevenir os enjoos matinais, e depois apontada como causadora de graves malformações congênitas, o remédio ganhou uma segunda vida em 1998 como tratamento para a hanseníase (antigamente conhecida como lepra). Em 2006, a talidomida ganhou uma terceira chance ao ser aprovada para tratar mieloma múltiplo, um câncer de medula óssea.
Quando a Covid-19 se tornou uma pandemia no ano passado, teve início uma corrida para encontrar qualquer tratamento que pudesse ajudar no combate ao novo coronavírus, enquanto vacinas e novos medicamentos eram desenvolvidos a partir do zero.
Novos tratamentos, como anticorpos monoclonais, são o resultado desses esforços. Mas desenvolver, testar e obter a aprovação da FDA, sem falar na criação da infraestrutura para a produção e distribuição de um novo medicamento, leva tempo – tempo que o mundo não teve, e ainda não tem. Outros pesquisadores rapidamente começaram a examinar o que já estava disponível em hospitais e nas prateleiras das farmácias.
“A vantagem do reaproveitamento do medicamento é que ele já foi aprovado, já passou pelo processo regulatório para mostrar que é seguro e eficaz para alguma coisa. Portanto, se foi possível encontrar usos adicionais para essa droga, já sabe que ela tem um bom perfil de segurança”, explicou o doutor David Fajgenbaum, imunologista da Universidade da Pensilvânia e diretor do Centro para Tratamento e Laboratório de Tempestades com Citocinas.
Sem falar que existem versões genéricas baratas de muitos medicamentos mais antigos porque suas patentes expiraram. “É apenas uma questão de combinar a droga certa com a doença certa”, disse Fajgenbaum. “Felizmente, existem mais de dois mil medicamentos que já foram aprovados pela FDA para pelo menos uma doença, e aprendemos que existem muitas outras doenças para as quais esses medicamentos também podem ser utilizados”.
Experiência própria
Na verdade, Fajgenbaum disse que “dedicou a vida para promover o reaproveitamento de medicamentos” para doenças sem tratamentos específicos. Sua paixão é impulsionada em parte por sua própria experiência.
Em 2010, enquanto estava na faculdade de medicina, ele adoeceu pela primeira vez com a doença de Castleman, um distúrbio autoimune raro que, como a Covid-19, pode fazer com que o sistema imunológico inunde repentinamente o corpo com substâncias químicas inflamatórias, a chamada tempestade de citocinas; o resultado pode ser danoso a tecidos e órgãos e, às vezes, até levar à morte.
A doença de Castleman aproximou Fajgenbaum da morte em cinco oportunidades – até que ele encontrou seu próprio tratamento em uma droga reposicionada.
“Na verdade, estou vivo hoje por causa de um medicamento que foi desenvolvido há 30 anos para outra doença. Nós a identificamos por meio de um processo muito sistemático e pensamos que poderia ajudar a salvar minha vida”, contou. “Eis-me aqui, mais de sete anos depois.”
Durante o tempo em que esteve doente, o médico fundou o Rede de Colaboração da Doença de Castleman (CDCN na sigla em inglês), uma iniciativa global dedicada ao combate ao distúrbio. O método colaborativo da CDCN para organizar pesquisas médicas posteriormente tornou-se modelo para outras doenças sem tratamento.
Um projeto para salvar vidas
Quando a Covid-19 surgiu, Fajgenbaum imaginou que o reposicionamento de medicamentos poderia ajudar a combater a infecção. “Em 13 de março de 2020, o dia em que grande parte dos EUA começou a fechar, eu me vi sentado ao lado de minha esposa, esperando e rezando para que algum pesquisador em algum lugar seguisse o projeto que usamos para identificar alguma droga como aquela que salvou minha vida”, contou.
Cerca de um minuto depois, ele percebeu que “aquele pesquisador em algum lugar” seria ele mesmo – e convocou sua equipe do Centro de Tratamento e Laboratório de Tempestades de Citocinas para participar dessa investigação.
“Eu falei para a minha equipe que essa é uma doença que tem muitas semelhanças com a doença de Castleman. Se já havíamos feito um reposicionamento sistemático de medicamentos com sucesso, tanto que salvou minha vida, poderíamos aplicar a mesma abordagem à Covid-19”, lembrou.
Com isso, eles lançaram o projeto CORONA (Fajgenbaum é seu diretor e investigador principal), um dos muitos esforços globais (privados e governamentais) tentando identificar, testar ou rastrear tratamentos promissores para Covid-19 entre medicamentos que já existem.
Seu laboratório reuniu uma equipe de voluntários para analisar sistematicamente “todos os casos relatados de qualquer droga administrada a qualquer humano com Covid-19” e reunir as informações em um banco de dados.
“Inicialmente, pensamos que talvez houvesse algumas dúzias de drogas que poderiam ser testadas. Mas acabamos identificando mais de 400 medicamentos diferentes administrados a pessoas com Covid-19”, disse, observando que o número de pacientes envolvidos era de aproximadamente 270 mil.
Fajgenbaum explicou que várias abordagens podem ser usadas para fazer a correspondência entre uma doença e um tratamento potencial. Elas incluem pesquisa translacional, que envolve descobrir o que está errado no nível celular com uma determinada doença e ver se existe uma droga que resolve o problema.
Há também uma triagem de drogas de alto rendimento, que é basicamente testar diferentes drogas em uma placa de Petri com células de pacientes e ver o que acontece. A inteligência artificial também pode ser usada para encontrar conexões até então desconhecidas entre processos de doenças e medicamentos.
“Mas, no final do dia, realmente a única maneira de saber se uma dessas drogas que parecem promissoras em laboratório realmente funciona em humanos é administrando-a em humanos e vendo como reagem”. Testar medicamentos para tratar a Covid-19 em um estudo é crítico e complicado.
Como as pessoas podem melhorar sem medicação (ao contrário, digamos, da doença de Castleman ou do câncer de pâncreas), é importante conduzir estudos randomizados e controlados, nos quais os pacientes sejam selecionados aleatoriamente para receber o medicamento ativo ou um placebo. Caso contrário, é difícil saber se os pacientes teriam melhorado por conta própria de qualquer maneira.
Hicroxicloroquina e outras drogas
Os EUA tiveram uma experiência com a hidroxicloroquina que é um estudo de caso do que acontece quando o hype ultrapassa a ciência. Com base em estudos anteriores, muitas vezes observacionais, muitos acreditavam que o medicamento antimalárico (ele próprio reaproveitado como um tratamento para a artrite reumatoide) ajudaria a tratar pessoas com Covid-19 ou talvez evitasse que ficassem infectadas ou adoecessem. Mas, quando os resultados dos ensaios randomizados e controlados voltaram, a hidroxicloroquina se mostrou ineficaz.
Também é importante definir o momento certo para a administração do medicamento. Como conta o doutor Fajgenbaum, um ótimo exemplo é a dexametasona, um esteroide barato que existe há décadas e é usado para tratar muitas doenças, como artrite inflamatória e problemas de pele, nos olhos e no aparelho respiratório.
“Surpreendentemente, um terço dos pacientes em respiradores se salva com a dexametasona. É um grande benefício. A droga também é útil para pacientes que ainda não estão nos respiradores, evitando que cheguem nesse estágio. Mas a dexametasona se mostrou prejudicial se for administrada muito cedo no curso da doença. Isso mostra como é complicado lidar com a Covid-19”, detalhou.
Se os pesquisadores não identificarem o momento certo para aplicar alguma droga em estudo, os resultados também podem ser inconclusivos ou contraditórios, gerando confusão e frustração.
A pesquisa com o tocilizumabe é um exemplo. Vários estudos mostraram que a droga ajuda os pacientes a sobreviver, mas vários outros apontaram o contrário. A chave parece ser o tempo. Para que funcione, o tocilizumabe precisa ser administrada no prazo de 24 horas após a internação do paciente na UTI.
“Esta não é uma doença em que haverá uma receita única para todos, um medicamento que seja uniformemente eficaz. Na verdade, pode haver diferentes medicamentos administrados durante diferentes estágios do curso da doença”, disse.
Outros medicamentos que Fajgenbaum considera promissores são o baricitinibe – que, como a dexametasona e o tocilizumabe, também suprime a resposta imunológica e é aprovado para a artrite reumatoide –, a colchicina, usada no tratamento da gota, e a heparina, que atua para diluir o sangue e imunoglobulina intravenosa.
Ajudar os pacientes em estado crítico a sobreviver é uma parte importante do quebra-cabeças. Outra é evitar que os pacientes infectados fiquem tão doentes.
“Acho que realmente precisamos nos concentrar naqueles pacientes que foram diagnosticados recentemente, e evitar, em primeiro lugar, que eles precisem ser internados.
É uma população difícil de fazer testes porque, nos casos desses pacientes, embora não apresentem sintomas, todos foram infectados pela primeira vez entre cinco a 14 dias antes”, relatou o médico, observando que os antivirais provavelmente não serão eficazes no curso da doença.
Outro medicamento que lhe parece promissor é a fluvoxamina, um inibidor seletivo da recaptação da serotonina (ISRS) usado para tratar a depressão.
Ele diminui a inflamação no cérebro. Um par de estudos iniciais mostrou que a fluvoxamina ajuda a manter as pessoas infectadas fora do hospital. Ao contrário de anticorpos monoclonais que precisam ser aplicados de forma intravenosa, ela é uma pílula.
Nenhuma vitória absoluta
O doutor David Boulware, professor de medicina da Universidade de Minnesota, participou de uma série de ensaios diferentes que analisaram medicamentos reposicionados para Covid-19, incluindo uma série de ensaios com hidroxicloroquina.
“São medicamentos disponíveis realmente baratos, e é exatamente por isso que deveríamos estudá-los, porque são muito baratos e estão disponíveis”, afirmou.
Agora, Boulware está envolvido em um estudo multicêntrico com fluvoxamina. Mas tem sido um desafio, porque o ensaio deve recrutar pacientes recém-infectados o mais cedo possível.
Das 1.000 pessoas necessárias ao estudo, ele recrutou apenas cerca de 300, até agora. “Se tivéssemos o número adequado, teríamos uma resposta definitiva em duas ou três semanas”, disse. Boulware e Fajgenbaum disseram que outro desafio é o financiamento.
Segundo o doutor Boulware, a fluvoxamina custa cerca de US$ 12 (cerca de R$ 67) para um curso de tratamento. “São medicamentos genéricos, então não há patente incidindo sobre eles. Também não há nenhuma grande empresa farmacêutica por trás para impulsionar isso”.
Portanto, cabe aos doadores privados ou ao governo federal apoiar a pesquisa, já que as empresas farmacêuticas não têm incentivo para fazê-lo.
“Até o momento, a maioria dos estudos realmente focados no tratamento inicial foi financiada por doadores privados e grupos filantrópicos. Mas acho que há um interesse emergente no nível federal em alguns desses medicamentos reposicionados”, disse Boulware.
O doutor Francis Collins, diretor do National Institutes of Health, disse que o governo investiu na reutilização de medicamentos.
“Investimos um monte. E isso tem sido uma obsessão para mim nos últimos 10 ou 11 meses. Lembrei de onde estávamos em março de 2020, e o esforço para encontrar agentes terapêuticos foi bastante disperso naquele momento. Houve muito foco na hidroxicloroquina, que todos nós sabemos agora que não deu certo. Muitos remédios potencialmente valiosos não foram investigados”, relatou.
Collins disse que trabalhou com a indústria farmacêutica para estabelecer uma parceria público-privada, chamada ACTIV, sigla em inglês para Acelerando as Intervenções Terapêuticas e Vacinas para Covid-19. Um grupo de especialistas revisou 600 opções de medicamentos e ajudou a priorizar aqueles que valiam a pena investigar. Até agora, cerca de 20 foram testados.
O projeto teve alguns sucessos. “Houve bons resultados com o remdesivir, a dexametasona e a baricitinibe. Mas a maioria dos reaproveitamentos não deu certo e isso não é incomum”, explicou.
Quanto à fluvoxamina, Collins disse não há decisão final. “A fluvoxamina parece promissora agora, mas pode estar onde a hidroxicloroquina estava há um ano e não funcionar. Portanto, não quero abrir a porta para que todos comecem a usá-la. Só digo que vamos testar e descobrir a resposta”.
E assim a busca continua
O doutor Fajgenbaum se sente ao mesmo tempo assombrado e impulsionado pela perspectiva de que outros medicamentos estejam ali, à vista de todos, e possam ajudar alguém a lutar contra alguma doença.
“O que me mantém acordado à noite é pensar que esses medicamentos estão por aí, nas farmácias do bairro. Nosso trabalho é descobrir como essas drogas, aprovadas inicialmente para determinadas doenças, possam ser usadas para combater outras enfermidades e salvar a vida das pessoas”, concluiu.
(Texto traduzido. Leia o o original, em inglês).
Fonte: CNN.