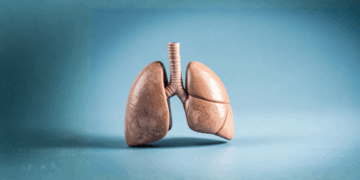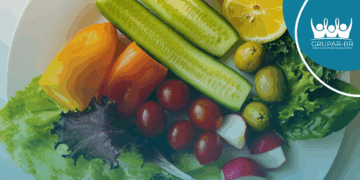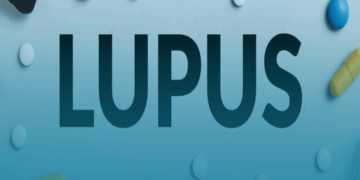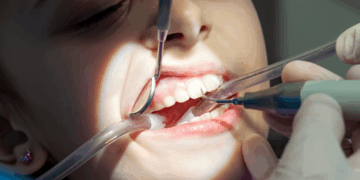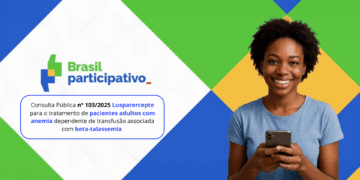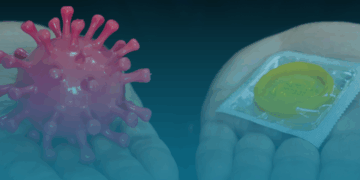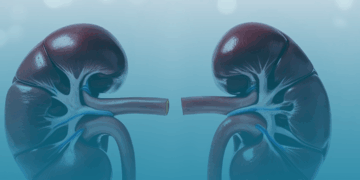A infeção pelo SARS-CoV-2 assustou o meio científico. E um grupo de médicos do Serviço de Reumatologia do Hospital Santa Maria quis saber qual o impacto que a doença poderia ter nos seus doentes imunodeprimidos. Após dois anos, dizem ao DN, que os resultados obtidos são “muito positivos e encorajantes”. A grande maioria dos doentes esteve mais protegida devido à própria medicação biológica que tomava.
A cada 15 dias, Patrícia Jardim dirige-se uma manhã ao Centro de Investigação Clínica do Centro Académico de Medicina de Lisboa, no sexto piso do Hospital de Santa Maria, para participar num ensaio clínico, que estuda um medicamento biológico inovador destinado à doença de que sofre há 17 anos, lúpus, que já tem uma diferença em relação aos fármacos mais recentes do mesmo tipo. “Este já é um imunomodulador”, explica-nos.
Como em qualquer ensaio clínico, Patrícia, agora com 40 anos, não sabe se está a tomar o placebo ou mesmo a nova droga, porque isso só será revelado após resultados finais, mas ela acredita que está mesmo “a tomar o medicamento”. “Só pode, e é bom, porque me sinto muito melhor. Pelo menos, não tenho dores nas articulações, que é onde a doença me ataca mais”, afirma a rir.
Na última manhã da consulta antes de férias, as quais vai ter de interromper para cumprir o protocolo e tomar as quatro injeções que compõem a medicação, conta ao DN que não foi de ânimo leve que acedeu a entrar numa situação destas. “Falei muito com o meu médico, em quem em confio bastante e que me deu a garantia que se não melhorasse ou se algo corresse mal que ele próprio interrompia o protocolo. Isto deu-me segurança e aceitei. Sempre é uma forma de poder ajudar no estudo da minha doença e, se calhar, na descoberta de algo bom para os doentes no futuro”.
A partir daqui, e uma vez que reunia todos os critérios que eram necessários, não tinha nada a perder. E fê-lo, precisamente, numa altura “em que estava em crise”, já lá vão oito meses e ainda tem mais quatro pela frente. “O estudo é de um ano”, especifica Patrícia. Sempre que ali vai sabe tem de estar disponível quase toda a manhã, primeiro para a consulta de avaliação pelo seu médicos, depois para a consulta de enfermagem, para a monitorização dos sinais vitais e toma de medicação, e finalmente para a última consulta de reumatologia, para “me observarem as articulações que é o que a doença me afeta mais”. E, como qualquer doente com doença reumatológica inflamatória, Patrícia viveu sempre sob a ameaça do vírus SARS-CoV-2, devido ao impacto que este poderia ter num doente imunodeprimido, mas “não quis fazer da situação um cavalo de batalha”.
“Não queria condicionar muito a minha vida nem a dos meus filhos. Na altura, eram os dois menores, agora um já é maior, mas no início foi assustador, porque sendo eu uma doente imunodeprimida, à partida, corria mais riscos do que qualquer outra pessoa de poder ter complicações”, podendo necessitar de mais vigilância. Mas quando teve a infeção, só teve sintomas ligeiros. “Tive congestionamento nasal e tosse, ao contrário do meu marido que não tem qualquer doença e ficou de cama”. A sua preocupação era se teria de interromper a medicação diária que toma desde os 23 anos e que continuará a tomar para o resto da vida, porque “o lúpus é uma doença que não tem cura”, mas, afinal, não teve de o fazer.
A preocupação de Patrícia era, no fundo, a preocupação de muitos outros doentes que assim que a pandemia teve início bombardearam os médicos com questões. A falta de respostas, quer para os doentes quer para os médicos, levou um grupo de médicos especialistas, orientados pelo diretor do Serviço de Reumatologia, João Eurico da Fonseca, a avançar logo no início da pandemia para uma investigação que avaliasse o impacto da covid-19 nas pessoas com doenças reumáticas inflamatórias sistémicas. Deste grupo, faziam parte os reumatologistas Vasco Romão, Rita Machado, Sofia Barreira e a interna da especialidade, Matilde Bandeira, bem como o investigador principal do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, Marc Veldhoen, que aceitaram agora falar ao DN sobre os resultados obtidos, considerando que foi mais uma forma de “poderem fomentar a investigação clínica e, assim, melhorar o conhecimento médico e os cuidados prestados aos doentes”
Preocupação com doentes começa com surto no serviço
Mas o início da história desta investigação começa no próprio serviço de reumatologia do CHULN, que foi, aliás, o primeiro nos hospitais do SNS. “Foi detetado nos primeiros dias de março, quando apareceram os primeiros casos no Norte. Tivemos vários profissionais a testarem positivo, outros a ficarem em casa em isolamento, porque eram contactos de risco, e só o diretor de serviço e duas colegas que estavam a estudar para o exame da especialidade é que ficaram a assegurar todas as tarefas. Tivemos logo que contactar todos os doentes que tinham estado em consulta ou em tratamentos na unidade naquele período para sabermos se tinham sintomas ou não para fazerem os respetivos testes de triagem”, conta Vasco Romão.
“Os doentes queriam saber sobretudo se teriam de interromper a medicação e o que poderiam fazer no caso de serem infetados e como poderiam ser tratados, e nós não tínhamos respostas e queríamos muito tê-las. E, no fundo, este foi o motivo que nos levou à investigação”.
A preocupação sobre como estes doentes, que, à partida, correriam maiores riscos, devido à fragilidade do seu sistema imunitário, reagiriam à covid-19 começou logo aqui. O reumatologista explica: “Os doentes queriam saber sobretudo se teriam de interromper a medicação e o que poderiam fazer no caso de serem infetados e como poderiam ser tratados, e nós não tínhamos respostas e queríamos muito tê-las. E, no fundo, este foi o motivo que nos levou à investigação”.
Sofia Barreira, outra das especialistas deste grupo, continua: “As comunidades científicas fizeram um grande esforço para, com base no que os peritos diziam, começarem a emitir algumas recomendações, mas a verdade é que não havia dados concretos. E todos nós, médicos e doentes, estávamos preocupados com o que poderia acontecer, quer do ponto de vista do desenvolvimento da infeção quer da sua gravidade. Por outro lado, também não sabíamos até que ponto é que estes doentes teriam capacidade de gerar uma imunidade duradoura e ficarem protegidos, pelo menos durante algum tempo, após terem tido a infeção”.
Fonte: Assessoria de Imprensa